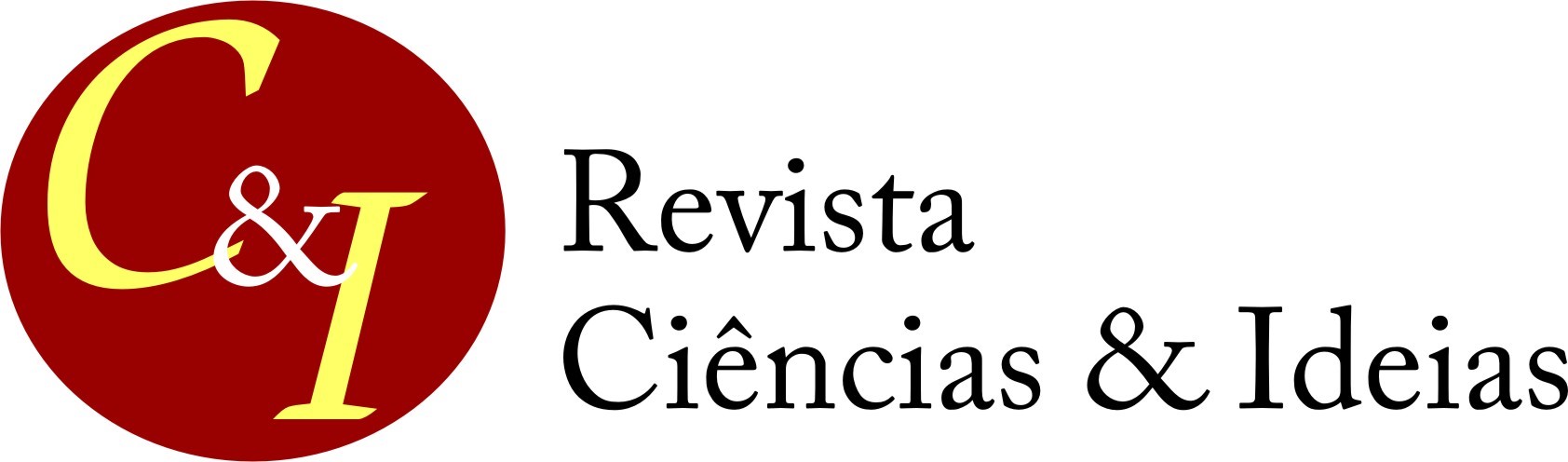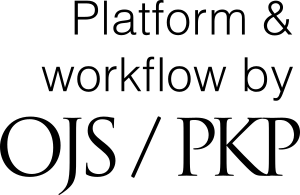CULTURA ORGÂNICA, JOGOS DE LINGUAGEM E FORMAS DE MATEMATIZAR
DOI:
https://doi.org/10.22407/2176-1477/2022.v13i1.1920Palavras-chave:
Etnomatemática, Jogos de linguagem, Agricultura Orgânica.Resumo
Vinculada à linha de História, Currículo e Cultura do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Pelotas (PPGEMAT-UFPel), este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado “Jogos de Linguagem matemáticos produzidos por uma família de agricultores orgânicos: da lavoura à feira”, que buscou conhecer e analisar os jogos de linguagem praticados por produtores orgânicos de uma propriedade rural localizada na cidade de Pelotas/RS, na perspectiva Etnomatemática. Para tanto, foi utilizada a abordagem de pesquisa qualitativa de cunho etnográfico com inspiração nos estudos sobre Etnomatemática de Gelsa Knijnik, que compreende e proporciona visibilidade aos diferentes saberes matemáticos produzidos por distintas culturas, bem como estudos de Ludwig Wittgenstein, em sua maturidade, sobre os jogos de linguagem. A coleta das informações se deu por meio de entrevista semiestruturada e observações, acompanhadas de gravador e diário de campo. Apresentar uma racionalidade matemática tendo como base a agricultura orgânica, aqui expressa no plantio de hortaliças, possibilitou o entendimento de que existem diferentes formas de matematizar, de fazer matemática, utilizadas por grupos sociais, étnicos e culturais para a sua sobrevivência, sendo seus significados e sentidos expressos através da sua forma de vida. Aproximar a agricultura orgânica e a Educação Matemática, a partir dos jogos de linguagem dos sujeitos envolvidos, é uma forma de mostrar um outro desenhar no entendimento de distintas racionalidades.
Referências
Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar 2018. Disponível em: <http://digital.agriculturafamiliar.agr.br/pub/agriculturafamiliar/?numero=7&edicao=5537>. Acesso em: 16 set. 2018.
BRASIL. Lei n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providencias. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 dez. 2003. Disponível em:<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/legislacao/portugues/lei-no-10-831-de-23-de-dezembro-de-2003.pdf/view>. Acesso em: 11 jun. 2018.
CONDÉ, M. L. L. Wittgenstein: Linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998.
DICIONÁRIO DO AURÉLIO. O Dicionário Aurélio Online de Português. 2018. [online]. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/linguagem>. Acesso em: 03 dez. 2018.
D’AMBROSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 5. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.
D’AMBROSIO, U. Etnomatemática e Educação. In: KNIJNIK, G; WANDERER, F; OLIVEIRA, C. J. (Org). Etnomatemática: curriculo e formação de professores. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. p.39 - 52.
DUARTE, C. G; FARIA, J. E. S. A vida como obra de arte: saberes e fazeres do camponês – mãos que medem e lutam. 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/viewFile/4517/4258>. Acesso em: 23 nov. 2019.
ECOPORTAL. La ONU propone la agricultura orgánica como la mejor forma de alimentar al mundo [online]. Disponível em: <https://www.ecoportal.net/temas-especiales/desarrollo-sustentable/la-onu-propone-la-agricultura-organica-como-la-mejor-forma-de-alimentar-al-mundo/>. Acesso em: 3 set. 2018.
GOTTSCHALK, C. M. C. A construção e transmissão do conhecimento matemático sob uma perspectiva Wittgensteiniana. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v28n74/v28n74a06.pdf>. Acesso em 23 nov. 2019.
GOTTSCHALK, C. M. C. Os rituais educacionais à luz da filosofia da linguagem de Wittgenstein. 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441849567005.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019.
KNIJNIK, G.; et al. Etnomatemática em movimento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.
KNIJNIK, G. Itinerários da Etnomatemática: questões e desafios sobre o cultural, o social e o político na educação matemática. In: KNIJNIK, G; WANDERER, F; OLIVEIRA, C. J. (Org). Etnomatemática: curriculo e formação de professores. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. p.19 - 38.
MATTOS, C. L. G. A abordagem etnográfica na investigação científica. In: MATTOS, C. L. G; CASTRO, P. A. Etnografia e educação: conceitos e usos. 2011. Disponível em:<https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=BWqiBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=pesquisas+etnogr%C3%A1ficas+MATTOS+2011&ots=SqaJLCix_c&sig=pRbRzyGC1W32Nu9hDUEnyM4m6ko#v=onepage&q&f=false>. Acesso em 23 nov. 2019.
MINAYO, M. C. de S. Ciência, Técnica e Arte: o desafio da pesquisa Social. In: MINAYO, M. C. de S; et al. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 21° ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2002. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2018.
WANDERER, F.; SCHEFER, M. C. Metodologias de pesquisa na área da educação (matemática). In: WANDERER, F. KNIJNIK, G. (Org.). Educação Matemática e Sociedade. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016. p.33 - 49.
WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. 9 ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2014.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2022 Caliandra Piovesan, Márcia Souza da Fonseca

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
O autor responsável pela submissão representa todos os autores do artigo, e se compromete a enviar como documento suplementar uma carta de consentimento com a assinatura de todos os autores informando que tem a permissão para a submissão do texto assim como assegura que não há violação de direitos autorais e nem qualquer tipo de plágio (incluindo autoplágio).